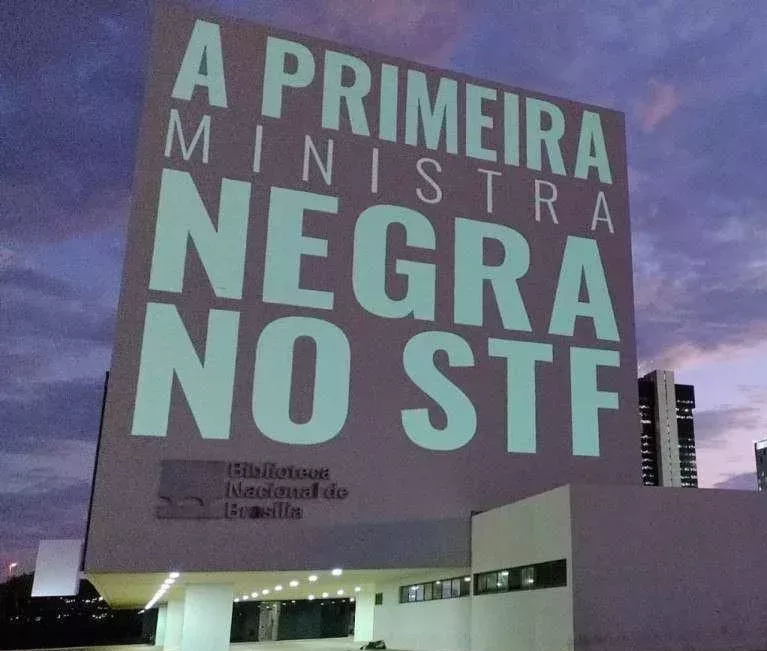Fundação Tide Setubal entrevista Geovani Martins
“Eu demorei para começar a pensar em ser um escritor justamente porque nunca tinha visto um escritor na vida, fui ver o primeiro com vinte anos, sei lá. Se eu estou ali como um escritor, e o pessoal no morro vê que eu vivo bem escrevendo, viajo direto, eu estou apresentando uma outra perspectiva”, diz […]


“Eu demorei para começar a pensar em ser um escritor justamente porque nunca tinha visto um escritor na vida, fui ver o primeiro com vinte anos, sei lá. Se eu estou ali como um escritor, e o pessoal no morro vê que eu vivo bem escrevendo, viajo direto, eu estou apresentando uma outra perspectiva”, diz Geovani Martins. O escritor carioca de 27 anos nasceu em Bangu, cresceu na Rocinha e hoje mora no Vidigal, Rio de Janeiro. Descoberto na Flip, Geovani lançou seu primeiro livro, “O sol na cabeça”, este ano. A obra, que em treze contos narra aspectos do cotidiano nas favelas, colecionou críticas positivas e já teve sua tradução negociada para diversas línguas.
Em setembro, ele participou do 1º encontro do CLIPE (Circuito Literário nas Periferias), iniciativa da Fundação Tide Setubal de apoio e incentivo à leitura e produção cultural nas periferias, que conta com parceria da Companhia das Letras para a realização de clubes de leitura e debates com autores. Em conversa com a Fundação Tide Setubal, Geovani fala sobre seu amor pela leitura, relembra a época em que trabalhava segurando a placa de um candidato a deputado e discute os desafios e oportunidades vivenciados por escritores de favelas e periferias. Confira abaixo a entrevista completa.
O que te motivou a começar a escrever?
A minha primeira motivação foi gostar de ler, me interessei pela leitura de uma forma bem intensa ainda novo. Com sete, oito anos eu já tinha desistido de qualquer outro presente possível e pedia só livros. Comecei a escrever naturalmente, não lembro de um momento em específico, eu só escrevia. Com 15 anos, já tinha 5 de experiência na escrita.
Sempre gostei muito de histórias, não só nos livros. Pedia para a minha avó me contar a mesma história dez vezes, adorava os contadores de história que tinha acesso na infância. Minha fascinação pelas histórias de quem estava à minha volta foi uma motivação para começar a escrever naturalmente. A partir desse interesse por livros e naturalmente ter começado a escrever, depois de um tempo comecei a direcionar o que eu fazia. Primeiro tentei fazer letras de música, depois comecei a fazer crônicas e publicá-las, e nesse momento participei da Flup (Festa Literária das Periferias) pela primeira vez e foi onde escrevi meu primeiro conto. Primeiro meu interesse pela leitura, depois pela escrita e a possibilidade de esse ser o meu caminho profissional e meu sustento, foi tudo em um crescendo. Não lembro na real de uma vida antes de a literatura ser algo importante.
Você sempre leu de tudo, teve autores que te inspiraram mais?
Até a adolescência, eu lia tudo o que vinha para minhas mãos, recebia livros dos meus vizinhos, minha mãe e minhas tias, suas patroas. Então eu lia desde enciclopédias até romances policiais, e os grandes best sellers da minha época, como Dan Brow e John Grisham. Minha mudança como leitor teve um marco. Eu trabalhei para um candidato a deputado na época, no começo andando de um lado para o outro de bicicleta com uma placa, e depois passei a ficar metade do dia fixo em um ponto, olhando a placa. E olhar a placa foi muito importante para mim como leitor porque eu ficava quatro horas por dia ali, sem fazer nada. Na época não tinha celular com internet, então eu li muito ao lado da placa, inclusive os clássicos que estavam na minha casa. A minha irmã tinha acabado de ganhar uma caixa do Machado de Assis e eu li quase todos, li também Dom Quixote pela primeira vez com a tradução do Ferreira Goulart, e a partir daquelas leituras e comecei a ficar mais rigoroso e me interessar mais pela literatura nacional.
Você já participou tanto da Flup (Festa Literária das Periferias) como de eventos mais tradicionais, como a FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty). Como compara as duas experiências?
Do ponto de vista econômico, estamos falando de públicos muito distintos. Uma das coisas que mais me assustam na FLIP é pensar que quem mora na cidade não está nem aí para o Festival. Chega gente do mundo todo, do Brasil inteiro, faz o festival de cinco dias e a população nem toma conhecimento. Isso é o contrário do que a FLUP faz. Quando participei da FLUP pela primeira vez, era cada sábado em uma favela diferente. Eu via que, além de querer formar novos autores, eles buscavam formar novos leitores também. Traziam pessoas para assistir, participar, sorteavam livros. Essa talvez seja a maior diferença entre os dois festivais, a integração com o local onde o festival é realizado e como as pessoas que estão ali reagem a ele. Se você parar pra pensar, imagina o quanto a FLIP poderia fazer pelos moradores de Paraty? Nos dois primeiros anos em que participei, achava que a cidade era apenas o centro histórico, depois fui descobrir que ela na verdade é enorme, do tipo que você fica 40 minutos num ônibus pra chegar em um bairro. Mas no último ano senti que começou uma mudança na FLIP, me chamaram para ir em uma escola antes do evento, etc.
Há também a diferença de público. Na Flip, a gente presume que está ali um leitor já formado, que vai pra lá porque consome livros. Na Flup, tem o público leitor, mas também muita gente que chega só pra ver o que é e, dois anos depois, está escrevendo também. Vejo que a Flup tem se espalhado como ideia, e espero que a tendência seja essa, e esse movimento de integração aconteça nas outras feiras na região.
A escola teve algum papel na sua formação como leitor?
Na verdade, não. A escola teve um papel social importante, conheci muitos amigos. Acho que a escola me influenciou mais no sentido de saber o que eu não queria fazer.
Como sua família recebeu quando você disse “quero ser escritor”?
Ao mesmo tempo em que todo mundo via que eu lia bastante e gostava de escrever, tinha uma galera que não dava tanta força, achava que era meio loucura. Mas quando penso em família, sempre penso na minha mãe, talvez a única opinião que sirva de alguma coisa. E ela sempre acreditou muito em mim como escritor, mas sinto que ela tinha um medo muito grande da frustração e da decepção. Eu recebi muito apoio da minha mãe, mas sentia que o tempo todo ela tentava me apresentar com cautela outros caminhos pra eu não ficar em um só, quando pra mim era o contrário, estou focado numa coisa só porque é a única chance que eu tenho. Quando fui escrever esse livro, voltei a morar com ela depois de dez anos, sem precisar pagar nada, e isso pra mim já é uma grande prova de quem acredita.
Quais são os principais desafios enfrentados pelos escritores em periferias e favelas?
Acho que o maior desafio é o tempo, né? Eu quando fiz esse livro tive a sorte de minha mãe ter a condição mínima de me receber na casa dela e eu poder não ter outro emprego e me dedicar à escrita. Agora, não sei se teria capacidade de fazer o mesmo livro tendo um emprego de segunda a sexta, de oito horas. A maior dificuldade é o tempo – e isso para quem já está determinado a escrever.
Agora, chegar nesse ponto é difícil. Se você nunca viu um escritor, não tem a mínima ideia de como funciona o mercado editorial, por mais que tenha a noção de escrever, até pensar em virar um escritor é um movimento muito longo, que às vezes se perde. A pessoa tem um filho, os boletos vão chegando e isso nunca se concretiza. Digo isso porque sou amigo de muitos grandes contadores de histórias que talvez estudando um pouco sobre a forma literária criariam histórias maravilhosas, mas antes disso você precisa vislumbrar essa possibilidade, precisa ter alguma perspectiva. Eu me fortaleci porque já cresci com uma perspectiva diferente de vida, e quando decidi escrever tive tempo pra fazer, sabe? Eu poderia falar do problema financeiro mas isso entra no problema do tempo porque quando você fica sem tempo nenhum, é por questões financeiras.
No seu livro você fala da favela sem romantizá-la ou reforçar preconceitos. Quais são os desafios de não estereotipar um local que costuma ser estereotipado por tantos autores?
Pensei muito em o que eu não queria fazer, como eu não queria soar, pra começar a esboçar o caminho. Talvez o que tenha dado mais trabalho conceitual foi quando pensei como trabalhar a questão racial no livro sem parecer panfletário, porque isso afasta muita gente. No sentido de estereótipo, não foi uma questão porque me sinto tão próximo desses personagens e esses ambientes que fica difícil criar estereótipo. O que cria um estereótipo é justamente a distância, quando você vê uma coisa de muito longe e começa a tirar conclusões sobre aquilo. Eu pensava naquelas contradições do livro, e acima de tudo, vivia elas, então foram para o papel.
Você que escolheu o nome do livro?
Eu brinco que poderia ser bem canalha e dizer “comecei pelo nome”, mas a real é que eu já estava com o livro pronto, não tinha nome, precisava fazer a capa. Uma galera da editora falava uns nomes que eu não gostava, foi uma treta. Aí o Chico (Buarque) lançou o disco novo dele, falou o lance das caravanas, e eu pensei no nome “a culpa deve ser do sol”, mas o pessoal não gostou. Chegaram com alguns argumentos pra me fazer desistir, um deles era que seria ruim pra traduzir, outro que pensaram em mandar pro Chico pra ver se ele escreveria alguma coisa, e ele não ficaria feliz se usasse esse nome. Eu já queria alguma coisa com sol, tinha uma ideia abstrata de “dezembro”, um mês quente e com situações limite. Aí alguém falou “O sol na cabeça”, achei ok e já mandamos pra gráfica antes de mudar de ideia.
Que comentários sobre o livro mais te surpreenderam?
A leitura do Caetano Veloso foi marcante porque sou muito fã dele como poeta, tenho um quadro dele na minha casa, quase todos os discos dele em vinil, então já fiquei surpreso primeiro por ele ter lido, depois por ele ter escrito sobre. E o que ele escreveu me surpreendeu. Ele fala sobre o som das palavras e as misturas de sotaques. Isso é algo que eu pensei ao escrever o livro, em ter essa mistura. Morei muito tempo na Rocinha, que recebe gente de norte a sul do Brasil, e essa mistura cria ali uma língua nova, esse atrito. Fiquei bem feliz de alguém ter percebido isso no livro, e de esse alguém ter sido o Caetano Veloso!
Como as editoras grandes poderiam agir para ter mais diversidade de vozes em seus catálogos?
Acho que primeiro é estar atendo à agenda cultural das favelas e periferias do Brasil. Eu, quando cheguei na minha editora, estava na Flip, onde você presume que vai encontrar essas editoras. Mas muitos escritores não chegam à Flip, então se você não tiver um olhar atendo para essas agendas cultuais fica difícil pensar em descobrir novas vozes. Você encontra pessoas, mas aquelas que já estão batendo naquela porta há algum tempo. E quando a gente fala em descobrir novos talentos, eu encaro como uma coisa ampla, até chegar em uma pessoa que tem uma mínima habilidade ligada à palavra.
Talvez não só as editoras mas a própria mídia deveria olhar para a agenda cultural das favelas e periferias. Hoje, o jornal só está lá quando tem morte, desgraça, não falam sobre a produção literária, a poesia… Outro dia peguei um mototáxi, a gente estava conversando e ele falou que escrevia rap e parou de escrever. Eu nem cheguei a ouvir o que ele cantava porque ele foi sufocado antes. Poderiam estar mais atentos a esses movimentos, rodas de rimas, sarais menores.
Hoje ainda é necessário ter bons contatos para ser publicado?
A minha situação de estar na Flip, conhecer uma pessoa, ser levado para uma editora, é muito excepcional, porque a maior parte desses contatos vem de conhecidos, que indicam os livros dos amigos. O livro pode até ser bom, não vou entrar nessa discussão de se é bom ou se é ruim, mas ele passou na frente de um monte de gente, né?
Mas eu sinto que as grandes editoras estão tentando rever o próprio posicionamento. Digo isso porque logo que cheguei na Companhia das Letras, me disseram que estavam tentando mudar no sentido de publicar autores que nunca tinham publicado livros. E acho que isso esta ligado à demanda do mercado, com gente que está interessada em ver esses novos livros. Muitos falam de mim como uma novidade, mas no Rio não sou tão novidade assim, estou publicando desde 2003, sai em várias revistas. Mas pra um pessoal que só acompanha o jornal O Globo, enquanto eu não saía naquele jornal eu não existia enquanto escritor.
Como você acha que as Fundações, Institutos e ONGs podem apoiar a literatura periférica?
Acho que a melhor forma de apoiar é formando novos leitores, porque eles podem depois se transformar em escritores, tradutores, editores. Proporcionar esse contato com o livro talvez seja o mais importante. Está cada vez mais difícil fazer uma criança se interessar por livros, é algo que tem que ser feito por alguém que conheça a criança. Na minha adolescência para a vida adulta, eu tinha umas pessoas que sabiam o que eu queria ler, o que eu precisava ler, do tipo “você me lembra o autor tal, leia esse livro que vai te ajudar”. Então ter essa proximidade, agentes de leitura que conheçam minimamente seu contexto social, familiar e o que está rolando agora, o que interessa as crianças, ajuda muito a formar novos leitores.
Existe um papel de formação política dos saraus periféricos. Você se vê como um formador, que também tem esse papel?
É uma responsabilidade que se você assume, às vezes não consegue carregar, né? Existe uma pessoa que sou eu, filho da minha mãe e tal, e tem eu como autor, que represento uma pessoa. E nesse sentido acho que isso tem uma importância, sim. Inclusive o número de pessoas que falaram pra mim que começaram a escrever depois de ler meu livro comprova isso, de como um autor jovem, negro, de favela, que fale uma língua urbana pode provocar inquietações que façam outros jovens escrever. Acabo cumprindo esse papel junto a outras pessoas, e gosto desse lugar.
Eu demorei para começar a pensar em ser um escritor justamente porque nunca tinha visto um escritor na vida, fui ver o primeiro com vinte anos, sei lá. Se eu estou ali como um escritor, e o pessoal no morro vê que eu vivo bem escrevendo, viajo direto, eu estou apresentando uma outra perspectiva. Uso o mesmo tênis que os traficantes usam, mas comprei com o dinheiro do meu livro, tá ligado? É sobre fomentar novas perspectivas de vida. O cara saiu daquele lugar que ou ia ser segurança, ou garçom, ou porteiro, esse campo de produções muito limitadas com as quais a gente cresce. A maioria das crianças que eu conheço até uns sete anos acham que poderiam ser tudo, astronauta, jogador de futebol, etc. Depois dessa idade, parece que isso é cortado de uma forma que quando a pessoa chega ao ensino médio, ela tá com três ou quatro opções de emprego. Isso é perigoso porque acaba limitando muita gente que poderia ter vários campos de atuação. A gente sair desse lugar historicamente delimitado gera perspectivas. Se você tira a perspectiva de alguém, você tira praticamente tudo.
Confira abaixo o teaser da participação de Geovani no CLIPE: