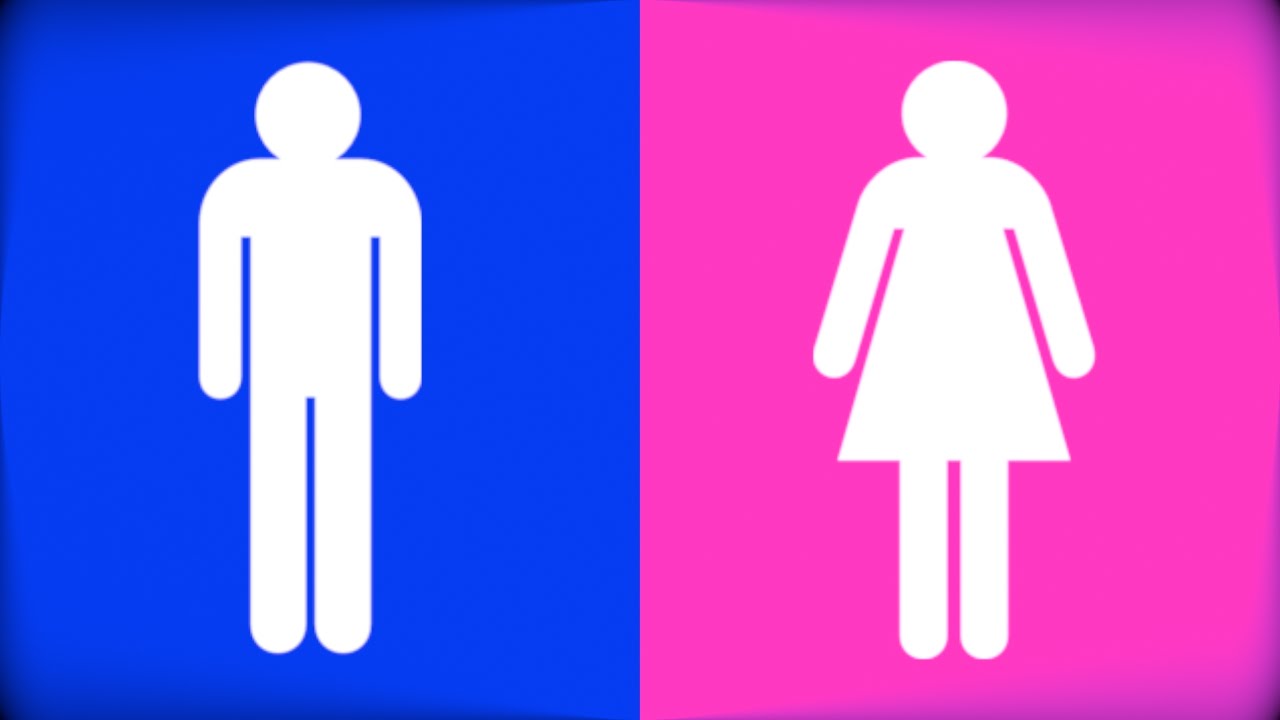Pensando em termos populacionais, as mulheres no Brasil não são uma minoria. Somadas, elas compõem 51,48% da população nacional. Podem votar, chefiar famílias, trabalhar em diversos campos, concorrer a cargos públicos, comandar empresas e até mesmo governar a nação. Mas há uma grande diferença entre o poder, teórico, e o conseguir, prático. A desigualdade de gênero ainda permeia todos os campos da sociedade brasileira, o que leva o Brasil a atualmente ocupar a 90ª posição em um ranking do Fórum Econômico Mundial que analisa a igualdade entre homens e mulheres em 144 países, tendo caído 11 posições no último ano. Mulheres brasileiras têm menor remuneração, sofrem mais assédio, são mais sujeitas ao desemprego e estão sub-representadas na política. Quando vozes corajosas, como a de Marielle Franco, ameaçam abalar as estruturas de poder, correm maior risco de serem silenciadas. O feminicídio é tão frequente que o Brasil é o quinto país com maior taxa de assassinato de pessoas devido à sua condição de serem mulheres, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Confira as dimensões da desigualdade de gênero no Brasil, e caminhos para reduzi-la.
Mais dedicação, menos estímulo
Ao olhar dados educacionais, observa-se que meninas e mulheres possuem melhor frequência escolar, menor disparidade entre suas idades e a série adequada para estudarem e dedicam mais anos aos estudos. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2016, do IBGE, a taxa de frequência no ensino médio entre as mulheres é de 73,5%, versus 63,2% entre os homens – o abandono dos estudos para a entrada precoce no mercado de trabalho é mais frequente entre os meninos. No ensino superior, a maior frequência de estudantes do sexo feminino é mantida, sobretudo entre a população de 25 a 44 anos. O percentual de mulheres que completaram a graduação é de 21,5%, enquanto entre os homens o número cai para 15,6%. Ao analisar o número de mulheres negras que concluíram o ensino fundamental, o número cai para 10,4%, ainda maior do que o número de homens negros com o superior completo, 7%.
Apesar da melhor frequência e maior dedicação de tempo das mulheres aos estudos, os resultados do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês) mostram que a desigualdade entre gêneros se manifesta desde cedo, com meninos obtendo melhor desempenho sobretudo nas áreas de ciências e matemática. Partindo destes resultados, um relatório elaborado pela OCDE afirma que as disparidades de gênero por área não são determinadas por diferenças inatas de habilidades, mas por questões culturais, como o incentivo por parte de pais e professores aos meninos em disciplinas nas áreas de exatas e biológicas. Um recente estudo da Cátedra Unesco Mulher, Ciência e Tecnologia na América Latina (Flacso-Argentina) mostra que nove em cada dez meninas com entre 6 e 8 anos associam a engenharia com afinidades e destrezas masculinas.
.jpg)
Desigualdades no mercado de trabalho
Mesmo com a população feminina tendo, em média, maior escolaridade, na hora de buscar um emprego e receber o salário, as mulheres ainda são prejudicadas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no último semestre de 2017 as mulheres brasileiras ganhavam em média R$ 1.879, enquanto os homens recebiam em média R$2.469, uma diferença de 24%.
Em São Paulo, segundo dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego da Fundação Seade, as mulheres receberam em 2017 o equivalente a 87% da remuneração recebida pelos homens. “A diferença entre os rendimento médios de ambos os sexos vem diminuindo ao longo do tempo. Em 2016, por exemplo, ela era de 84%. Isso é uma boa notícia, mas nem tanto, pois a mudança não se deve a um crescimento da remuneração das mulheres, e sim à uma diminuição do salário dos homens, em decorrência da crise”, afirma Márcia Guerra, analista da Fundação Seade.
A falta de empregos gerada pela crise também tende a afetar mais as mulheres. Entre elas, o índice de desemprego no final de 2017 era de 13,4%, contra 10,5% entre os homens. Ao fazer um recorte por raça, a dupla opressão sofrida pelas mulheres negras torna-se ainda mais evidente. Segundo levantamento da economista e professora da Unicamp Marilane Teixeira, com base em dados do IBGE, o desemprego cresceu mais entre as mulheres negras durante a crise, indo de 9,2% em 2014 para 15,9% em 2017. Entre as mulheres brancas, a taxa de desemprego subiu de 6,2% em 2014 para 10,6% em 2017.
“As conquistas obtidas coletivamente pelo feminismo acabam privilegiando as mulheres brancas em função da persistência do racismo sobre as mulheres negras. Por outro lado, as conquistas obtidas pelo movimento negro terminam por privilegiar homens negros em função do sexismo”, afirma Sueli Carneiro, militante feminista e anti-racista, coordenadora executiva do Geledés Instituto da Mulher Negra e membro do conselho da Fundação Tide Setubal. Leia a entrevista completa com ela aqui.
Maternidade e discriminação
A chegada dos filhos é apontada por especialistas no Brasil e no mundo como um dos principais elementos na discriminação contra as mulheres no mercado de trabalho. Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas (FGV) analisou as situações de 247.455 mulheres que tiraram licença-maternidade entre 2009 e 2012. O desempenho delas no mercado de trabalho foi acompanhado pelos pesquisadores até 2016. O estudo revelou que após seis meses de estabilidade, a chance de demissão das mulheres que acabaram de se tornar mães era de 10%. Metade delas foi demitida no período de até dois anos depois da licença-maternidade.
“Quando a licença maternidade acaba, a mulher não costuma receber qualquer apoio por parte da empresa, e terá que providenciar arranjos para cuidar do bebê. No Brasil, as creches públicas não absorvem toda a demanda, e quando a mãe não tem apoio familiar para os cuidados com o bebê, acaba saindo do mercado de trabalho”, diz Cecília Machado, professora e pesquisadora da FGV/EPGE. “Como o salário médio do Brasil é baixo, às vezes o custo que essa mulher teria com uma escola privada ou babá equivale a todo o salário dela”.
Segundo a pesquisadora, o quadro poderia ser outro se as empresas fossem mais flexíveis com as funcionárias que acabam de voltar de licença. “Se houvessem mais mulheres em cargos de chefia, essa situação poderia ser outra. Mas justamente a falta de apoio impede que muitas cheguem a estes cargos, é um ciclo vicioso”.
Além da pouca flexibilidade com a maternidade, mulheres enfrentam discriminação no mercado de trabalho por conta de seu gênero. Segundo levantamento da Rede Nossa São Paulo, 19% das paulistanas já passaram por um quadro destes. Dentre as profissionais com ensino superior completo, o número sobe para 35%.
Violência e assédio
A cada hora, 503 mulheres brasileiras são vítimas de violência, segundo levantamento do Datafolha. Embora a legislação tenha avançado nas últimas décadas, com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha em 2006, as mulheres ainda precisam de mais – e melhores – políticas públicas para protegê-las. Segundo pesquisa do Datafolha referente a 2016, naquele ano 22% das brasileiras sofreram ofensa verbal, 10% sofreram ameaça de violência física, 8% sofreram ofensa sexual, 4% receberam ameaça com faca ou arma de fogo, 3% sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento e 1% levou pelo menos um tiro.
O assédio é também uma constante na vida de muitas: 40% das mulheres acima de 16 anos sofreram algum tipo de assédio, e eles são mais frequentes entre jovens de 16 a 24 anos e entre mulheres negras. Só entre as vítimas de comentários desrespeitosos, 68% eram jovens e 42% mulheres negras. Já em assédio físico em transporte público, 17% eram jovens e 12% negras.
“As mulheres, de forma geral, estão abandonadas. A legislação não atende às nossas necessidades – como é o caso da violência online, que não é contemplada das leis atuais – e a falta de preparo no atendimento às mulheres vítimas de violência muitas vezes leva à revitimização, em momentos que deveriam ser de amparo”, diz Maíra Liguori, diretora da ONG Think Olga.
Política machista
Um caminho para melhorar este quadro é a busca pela maior inclusão de mulheres na política brasileira. Na última edição do relatório Global Gender Gap Report 2017 do Fórum Econômico Mundial, o Brasil caiu da 86ª posição para 110ª na categoria “Empoderamento Político”. Dos 513 deputados federais, apenas 51 eram mulheres em 2017. No Senado, elas representavam 13 das 81 cadeiras (16%). Já no governo do presidente Michel Temer, somente 2 dos 28 ministérios eram ocupados por mulheres (7%) no ano passado. Este ano, o número caiu para 1.
Para tentar encorajar uma maior equidade entre os governantes, desde 2009 a Lei das Eleições (Lei nº 9.504, de 1997) determina que, nas eleições proporcionais, “cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo”. Contudo, muitos partidos políticos utilizam candidatas mulheres apenas como fachada para cumprir a lei, sem que haja um investimento real nas candidaturas. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas eleições municipais de 2016, 16.131 candidatos não tiveram um único voto – nem deles mesmos – indicando a possibilidade de serem laranjas. De cada dez destes candidatos, nove eram mulheres.
Para que mais mulheres entrem na política, sobretudo as de grupos tradicionalmente excluídos, é preciso que ocorra a ampliação de oportunidade para elas, seja pelo incentivo ao acesso nas universidades, com programas para que mais mulheres negras concluam o ensino superior, seja por uma maior valorização no mercado de trabalho, com oportunidades de chefia e liderança. E que o bom funcionamento das instituições democráticas garanta que elas terminem o mandato em segurança.